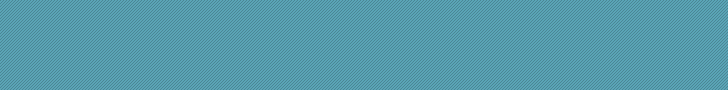Expressado moralmente: amor ao próximo,
viver para os outros e outras coisas pode ser
a medida de defesa para a manutenção do
mais duro dos egocentrismos.
Friedrich Nietzsche
O mundo é do tamanho do conhecimento que
temos dele. Alargar o conhecimento, para
fazer o mundo crescer, e apurar seu sabor é
tarefa de seres humanos.
Terezinha Azerêdo Rios
A palavra “inclusão” hoje está na moda. “Incluir as diferenças” é discurso obrigatório na área social e da educação, mesmo que não se tenha consciência do que realmente significa e de que maneira se dará.
Se observarmos os discursos governamentais, político-partidários, as propagandas de tv, os planos e projetos pedagógicos nas escolas, teremos a ilusória percepção de que realmente vivemos um período de “aceitação e respeito às diferenças” - sejam elas quais forem: étnicas, sexuais, de gênero, religiosas, culturais, raciais, enfim.
Palavras como diversidade, diferença, identidade e multiculturalismo adentram as instituições escolares, a mídia, as campanhas eleitoreiras. Da mesma forma, os termos respeito e igualdade, são os “abre-alas” de qualquer discurso que se diga democrático, social e/ou humanitário.
Nesse sentido, Duschatzky e Skliar (2001, p.120) lembram que certas retóricas sobre a diversidade se tratam “em certas ocasiões, de palavras suaves, de eufemismos que tranquilizam nossas consciências ou produzem a ilusão de que assistimos a profundas transformações sociais e culturais simplesmente porque elas se resguardam em palavras de moda”.
Não se pode esquecer que a identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa que sua definição - discursiva e linguística - está sujeita a vetores de força, a relações de poder. Elas não são simplesmente definidas, são impostas. Silva (2000, p.81) salienta que “a identidade e a diferença não são, nunca, inocentes”, segundo o autor, onde existe diferenciação, aí está presente o poder.
Ele destaca, no entanto, que há uma série de processos que traduzem essa diferenciação, como incluir/excluir (identificando e representando/marcando/simbolizando quem pertence e quem não pertence); demarcar “fronteiras” (que definam e separem “nós” e “eles”); classificar; normalizar.
A diferenciação, portanto, é responsável por (re)construir/(re)produzir a alteridade, por definir quem é o “outro”, e torná-lo identificável, (in)visível, previsível. Ao dividir, separar, classificar, normalizar, a diferenciação resulta na hierarquização.
Fixar uma determinada identidade como a norma, é uma das formas privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças, pois normalizar significa atribuir a essa identidade todas as características positivas possíveis, em relação às quais, as outras identidades só podem ser avaliadas de forma negativa, tal como afirma Silva (2000).
A marcação da diferença constitui então, o componente chave de qualquer sistema de classificação que vise definir quem é a “identidade” e quem é a “diferença”. Para Cuche (2002, p.187), “a imposição de diferenças significa mais a afirmação da única identidade legítima, a do grupo dominante, do que o reconhecimento das especificidades culturais”, este é um pouco mais problemático, na medida em que é necessária a negatividade da diferença para afirmar a positividade e a normalidade da identidade.
Nesse sentido, cabe destacar que a identidade cultural não é “natural”, nem inerente ao indivíduo, ela é preexistente a ele, e como a própria cultura se transforma, a identidade cultural do sujeito não é estática e permanente, mas é fluída, móvel, e principalmente, não é uma imposição inocente, nem uma apropriação, de todo, inconsciente. A identidade cultural é por sua vez construída, manipulada e política.
Na modernidade, com o surgimento dos Estados-nação, a identidade tornou-se decididamente um “assunto de estado”. Como afirma Denys Cuche (2002, p.188) “O Estado torna-se o gerente da identidade para a qual ele instaura regulamentos e controles”.
Benedict Anderson (1983, p.14) argumenta que a nação é, na verdade, uma “comunidade imaginada”. Para que exista, é preciso que um número considerável de pessoas de uma dada comunidade se sinta parte de uma nação, que tenham coisas em comum, que se “considerem” ou se “imaginem” integrantes dessa nação. Para haver essa “consciência” de nação, esse sentimento de pertencer a um mesmo grupo, a uma mesma cultura nacional e tornar possível uma identificação nacional, alguns dispositivos são acionados para representar a nação e produzir significados.
Nesse sentido, a língua, a raça e a história enquanto narrativas homogeneizadoras foram/são essenciais para a constituição das
identidades nacionais, para a constituição das culturas nacionais e para a formação de uma
consciência nacional, essas narrativas possibilitaram/possibilitam a internalização da ideia de
pertencimento nacional, de nacionalidade.
Os Estados-nação “não se lançaram à tarefa no escuro,
seu esforço tinha o poderoso apoio da imposição legal da língua oficial, de currículos escolares e
de um sistema legal unificado (...)”, como aponta Bauman (2001, p.199).
Para construir uma forma unificada de identificação a partir das tantas diferenças
existentes no interior da “nação”, homogeneizando os traços constitutivos da identidade nacional,
já que como afirma Bauman (2003, p.84) “dentro das fronteiras do Estado só havia lugar para
uma língua, uma cultura, uma memória histórica e um sentimento patriótico”, o projeto de
construção do Estado-nação necessitava, portanto, erradicar as diferenças e/ou os diferentes,
fosse por meio da “assimilação” ou por meio da “eliminação/exclusão”.
Portanto, para dar conta de sustentar seus parâmetros de ordem, beleza, limpeza e
progresso, a modernidade se serviu de uma lógica binária, de um sistema de classificação e
distinção cultural e identitário que visava preservar e garantir a conformidade social com esses
parâmetros.
A modernidade inventou e multiplicou os seus “anormais” - para usar uma expressão
de Foucault -, os sindrômicos, deficientes, monstros e psicopatas, os surdos, os cegos, os
aleijados, os rebeldes, os pouco inteligentes, os estranhos, os homossexuais, os miseráveis, os
“outros”.
Ela criou instituições com a função de normatizar e normalizar os elementos da cultura
e criar, reproduzir e legitimar uma cultura, uma identidade e uma consciência nacional,
conseqüentemente, essas instituições se tornaram palco da produção, reprodução e do controle da
alteridade no contexto da modernidade, a fim de purificar, afastar, limpar toda “sujeira social”.
A identidade cultural do sujeito moderno apresentava-se, nesse contexto, estável,
localizada, naturalizada. Havia lugares e comportamentos próprios a cada um. O sujeito centrado
da modernidade vivenciava sua identidade cultural nacional de maneira horizontal, compartilhava de uma identidade unificada e comum em torno de uma cultura nacional que primava pela
homogeneidade, pela igualdade e abominava a diferença e os diferentes.
Atualmente, porém, nesse período povoado pelas tecnologias da informação, pela
compressão das distâncias - seja por via virtual como pela velocidade dos meios de transporte -,
nesse contexto em que caem por terra as fronteiras nacionais e no qual os produtos (comida,
bebida, vestuário, língua, crença, música, moda, valores, entre tantos outros) das mais diversas
culturas, dos mais diversos países, invadem sem pedir licença, sem permissão, fiscalização ou
visto os territórios de outras nações, países, povos e comunidades mais distantes, a identidade
cultural se configura – enquanto resultado desse contexto – muito menos fechada, muito menos
estável e estática, e principalmente, muito menos “nacional” do que o era na época moderna.
É certo que essa nova percepção, essa nova forma de ver e vivenciar as identidades
culturais é conseqüência das transformações ocorridas ao longo da modernidade – principalmente
no último século, após a Segunda Guerra Mundial na chamada Modernidade Tardia ou Pós Modernidade – mais precisamente da globalização, das diásporas pós-coloniais, do processo de
desconstrução do Estado-nação e de descentração do sujeito moderno.
Com a integração econômica e com a difusão da informação possibilitadas pela
globalização e pelo avanço tecnológico, também a cultura e as identidades culturais estão em
trânsito constante. Junto com a informação e com os produtos, o fluxo de valores, costumes,
idéias, estilos, ou seja, das particularidades de cada país, sociedade, comunidade ou grupo é
muito grande e veloz .
Todavia, se esse aparato tecnológico que nas palavras de Silva (2001) nos permite
“viajar a longas distâncias sem sair do lugar”, possibilita um trânsito cultural e identitário, ou
seja, torna possível a universalização da cultura e das identidades, a homogeneização das
identidades culturais, por outro lado, e simultaneamente a esse impacto “global”, pode ser
observado um novo interesse pelo “local”, principalmente por aqueles – grupos/comunidades – que temem, para usar as palavras de Hall, que a globalização ameaça “solapar as identidades e a
unidade das culturas nacionais” (2005, p.77).
Ainda sobre isso, Bauman (1999) afirma que “junto
com as dimensões planetárias dos negócios, das finanças, do comércio e do fluxo de informação,
é colocado em movimento um processo localizador, de fixação no espaço”.
Também as diásporas pós-coloniais tiveram/tem um papel muito importante no processo
de (re)construção, (re)significação pelo qual passam as identidades culturais no mundo
contemporâneo, com elas acelerou-se/acentuou-se o transporte de culturas de um lugar para
outro, e a tradução dessas culturas e dessas pessoas – de suas identidades - no novo local/lugar
para o qual se deu a migração, possibilitando a transformação da cultura local e,
conseqüentemente, a produção de identidades culturais híbridas, este tipo identitário
característico da Modernidade Tardia.
Conseqüentemente, também teve influxo direto sobre as
transformações na percepção espaço-temporal e na configuração atual da alteridade, visto que no
“entre-lugar” – assim Bhabha (1998) denomina os lugares em que se instalam os migrantes – “a
diferença não é nem o Um nem o Outro, mas algo além, intervalar”.
Se na modernidade conseguíamos identificar a identidade do sujeito através dos
elementos, símbolos e práticas que as compunham e as localizavam num tempo, num espaço, e os
quais definiam e cristalizavam as identidades, os locais e papéis sociais, que eram ao mesmo
tempo comuns a praticamente todos os sujeitos conforme o elemento identitário, no contexto
contemporâneo já não temos essa possibilidade, ao menos não de maneira tão clara e precisa
como o mundo moderno possibilitava.
A identidade cultural do sujeito atual é muito mais variada, muito mais inconstante, muito
mais plural. Enquanto podíamos, por exemplo, falar sobre a mulher da sociedade moderna com
certa precisão, já que sua identidade era muito mais homogênea, muito mais centrada e singular,
teríamos hoje que falar sobre as mulheres da sociedade atual, visto que não há um único tipo,
uma única identidade, um único papel, ou um único lugar que a defina.
Atualmente, junto com as “novas” formas de identidade, “novas” formas de alteridade são
produzidas. A relação identificação/exclusão tem peculiaridades que são provenientes desse
contexto sócio-econômico-espaço-temporal pós-moderno, resultando em novos “outros”, novos “eles” e em diferentes formas de bani-los, de controlá-los, de colocá-los nos “seu devido lugar”;
novos discursos, novas formas de “os” representar .
Considerando-se a relação identidade/diferença e a dependência que uma possui da outra,
seria inevitável, e necessário até (se assim podemos dizer), “novos diferentes” capazes de
“normalizar” essas “novas identidades” que emergem. Como lembram Duschatzky e Skliar
(2001, p.124) “necessitamos do outro para, em síntese, poder nomear a barbárie, a heresia, a
mendicidade etc. e para não sermos, nós mesmos, bárbaros, hereges e mendigos”.
Veiga-Neto apud Larrosa e Skliar (2001, p.107) argumenta sobre esses “novos anormais”
que “o critério de entrada não é mais o corpo (em sua morfologia e comportamento); o critério de
entrada pode ser, também, o grupo social ao qual esse corpo é visto como indissoluvelmente
ligado”.
Leia também